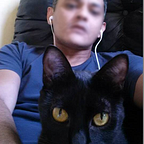Tu Não Prendas o Cabelo
Sempre me incomodou um pouco a impermeabilidade brasileira para com Portugal. Não digo nos centros acadêmicos ou nos círculos privilegiados onde se supõe que o amor à tradição e à História corra junto com o dinheiro, mas sim no âmbito do povo e dessa grande classe mais ou menos média, das pessoas que vivem o dia-a-dia algo insosso do trabalho e do barzinho e participam ainda que apenas passivamente desse cirquinho pra vender Grendene que já foi nossa vida cultural. Numa entrevista durante as celebrações dos 500 anos do Descobrimento, o Dr. Francisco Treichler Knopfli, Ex-embaixador de Portugal no Brasil, quando perguntado sobre o estado das relações entre Brasil e Portugal, fala sobre “o plano político-institucional”, onde se desenrolam tentativas de aproximação por meio de “semanas de exposições” organizadas por comissões bilaterais, “acordos de fomentação cultural mútua” etc. Isto faz parecer que se trata de um assunto oficialesco, a ser tratado em termos rígidos, com pauta e carta formal de intenções entre Governos — quando na verdade se trata de assunto pessoal, urgente, que diz respeito à vida comum dos brasileiros, ao seu dia-a-dia. Me ressinto da ausência de um convívio mais fácil e íntimo com a herança portuguesa, da falta que faz uma presença mais pronunciada de tudo o que é português, para além dos moldes fáceis da piada de estereótipos, no “plano do cidadão cotidiano”, como diz Alberto da Costa Silva, embaixador do Brasil em Portugal no livro “Incertas Relações: Brasil-Portugal no Século XX”, de Benjamin Abdala Junior.
Para me fazer compreender melhor, acho que só preciso mencionar a maneira como podemos sentir a proximidade dos Estados Unidos em nossas obsessões pop, nos assuntos de que tratamos em nossos momentos mais descontraídos. A incongruência salta à vista: O pessoal acompanha as séries de lá, sabe das fofocas do showbiz e dos desenvolvimentos políticos, o jornal dá a notícia do incendiozinho e tudo o mais — uma proximidade que se sente cada vez mais imediata, acentuada pela internet.
A tendência é que a barreira entre as eleições afetivas culturais — que antes seria um pouco mais influenciada pela geografia — fique ainda mais tênue e imprevisível: Mais e mais guris brasileiros com talento pra desenho têm o traço aliciado pelo estilo do mangá, já há todo um público nacional para filmes coreanos ultraviolentos, o tumblr das moças está cheio de fotos em preto e branco de e musas da nouvelle vague — e no entanto, cadê Portugal? Se você arremessar uma pedra na rua, não vai conseguir acertar alguém que não saiba quem é Jerry Seinfeld. Quantos sabem quem é Ricardo Araújo Pereira?
Claro que se pode dizer que a proeminência dos EUA é apenas natural, uma vez que a internet veio deles com todo um agregado de símbolos e valores aos quais tivemos que nos acostumar, para bem a utilizarmos. É um argumento sensato, mas que não se aplica aqui. O post não é sobre por que os EUA têm presença que têm, e sim por que Portugal não tem presença nenhuma. Igualmente, considerações sobre a diluição da influência portuguesa decorrente da afluência de europeus e orientais são apreciadas, mas não têm muita utilidade. Não quero saber dos outros: Falo de Portugal e Portugal somente. Todo o arrazoado de base econômica fica deslocado aqui, pois para mim este problema antes de mais nada é um assunto de família (um tema por si só irredutivelmente português). Considerando que se tratam de países com produções culturais que compartilham apenas o mesmo idioma, não deve ser difícil entender por que me entristeço, me exaspero — e me preocupo.
Entristeço-me por notar que se trata de uma ignorância voluntária que parece não ter contrapartida do lado Português. Me parece que os gajos lá conhecem nossas gírias parvas e as modas mais ridicas via telenovelas e banducas (bandecas, bandicas) de música débil. De uma forma ou de outra — pelas novelas, música ruim ou prostitutas nordestinas — a impressão que tenho é que Portugal ainda parece ter de alguma forma o Brasil na periferia de suas atenções. Resultado decerto da profunda impressão psíquica que a aventura ultramarina deixou no povo português. Uma ligação que eu não estranharia ver confirmada no que diz respeito a cada pedaço de terra onde afinal houve sangue Luso, derramado e investido — onde tenha ocorrido a aventura, compartilhada por um povo, de conquista, expansão e riqueza.
“O Brasil é a minha reconciliação com Portugal da qual não prescindo. […] a conclusão de que no meio do chuvisco cobarde do frio português, a descoberta do Brasil foi o nosso maior feito”. — Clara Ferreira Alves, na coluna semanal no Expresso
Mas não há uma correspondência desse tipo em sentido contrário. Não estou dizendo que em Portugal está havendo uma Renascença geral nem nada, também não é o caso de voltarem a exibir “Morangos com Açúcar” aqui (se você não sabe o que é, não se dê ao trabalho). Mas o fato é que, se se tratasse de uma Renascença, provavelmente a perderíamos, já que muito claramente não estamos olhando para aquela direção com a atenção devida. Imagino que meu ponto ainda pareça obscuro ou despropositado, então tentemos dessa forma:
Em “A Ilustre Casa de Ramires”, o último romance de Eça de Queirós, somos apresentados ao protagonista Gonçalo Mendes Ramires, um aristocrata de família quase milenar, “mais antiga que os Reis de Portugal”, que no século XIX se encontra reduzida a mera sombra do seu fulgor medievo. Ele vive de renda entre criados que o cercam de mimos sufocantes, num ambiente modorrento, de horizontes exíguos. Perto de completar 30 anos, Gonçalo se sente esmagado entre a perspectiva de uma vida não-realizada e sua ambição desmedida e sonhadora, entre a grandeza heróica de seus antepassados e as afrontas de um valentão grosseiro que o insulta dentro de suas próprias terras. Não é preciso avançar muito no livro para perceber que Gonçalo resume em si as qualidades e defeitos de Portugal — que ele é Portugal, ainda mordido pelo Ultimato de 1890, insatisfeito consigo próprio e um tanto sem rumo, se apercebendo talvez tarde demais das dificuldades que o novo mundo apresentava em seu caminho; esmagado por séculos de realizações que principiavam a já não valer nada, ou muito pouco, e assistindo impotente ao esvaimento dos seus melhores anos.
Eu, que não consigo olhar para trás na minha família mais que duas gerações, e que me vejo um tanto como erva daninha (planta de raízes curtas, dada a brotar não em jardins bem cuidados mas entre as rachaduras do concreto, em pouco espaço negociável, e um tanto à revelia), só poderia mesmo achar fascinante a imagem dos ramos familiares de uma árvore genealógica espraiando-se séculos para trás no tempo. Nisto eu talvez reflita meu próprio país, também ele de raízes ainda curtas, nascido ao acaso, de desenvolvimento instável, feito às arrancadas inconstantes e privado de certas regalias que para outras nações são tomadas como certas. A ausência do passado (passado que para Gonçalo Mendes Ramiro parecia opressivo, sufocante), para mim é uma experiência vertiginosa, como existir solto no ar, à mercê dos ventos. Suponho que para uma erva daninha solta no mundo deva ser um pouco mais pronunciada a constatação — sem dúvida compartilhada pela espécie — , de sermos penetras em uma festa pela vida afora, nunca se esquecendo de todo do momento em que seremos finalmente descobertos e expulsos. Um desarraizamento que sem dúvida tem suas vantagens, mas não deixa de ter seu quinhão de momentos melancólicos.
Em um post mais antigo eu escrevi que o romance de gênio é necessariamente desagregador, e o escritor, um estrangeiro. Isto acrescenta mais uma camada de estranhamento às minhas relações com o lugar e tempo em que estou. Há também o fato de que escritores são no mais das vezes gente que apenas observa e comenta (em que pese haver um grande número de escritores que foram também revolucionários ou homens de ação), a partir do ponto de vista privilegiado que só a distância dos acontecimentos permite. Pois a História é feita pelos outros, “o pessoal que trabalha”, como disse certo roqueiro. É pelas gerações familiares cujas vidas entretecidas formam a identidade e a memória do país (talvez, se eu chegasse perto o suficiente dessa malha, se pudesse penetrá-la, fosse achá-la no final sórdida, mesquinha ou banal. Mas vejo-a de longe no tempo, em documentos e fotos, e minha imaginação trabalha sobre esses testemunhos silenciosos, recriando um panorama geral de trabalho nobre e luta apaixonada).
“Bem”, alguém pode dizer, “você pode olhar 500 anos para trás, no Brasil. Não há de ser pouca coisa”. Não é despiciendo, é fato, mas também não é o bastante. Somos ainda verdes, e nos encontramos na desagradável situação de já termos mesmo esquecido que algo muito importante nos tem faltado. Grande parte das manifestações religiosas entre os letrados já não passa de acessório de moda, por exemplo. Nos faltam lastros, como o antigo lastro grego. Somos todos um tanto Homeros; podemos dizer como ele, do período épico em que a humanidade forjava sua consciência em noites iluminadas apenas pelo fogo: “não vimos os fatos, sabemos apenas de ouvir falar”.
(…)Mas o que a elles não toca
é a Magia que evoca
o Longe e faz d’elle história.
(…)
“Mensagem”, de Fernando Pessoa — Segunda Parte: Mar Portuguez — Os Colombos
Podemos olhar para trás e veremos Jesuítas, bandeirantes, corsários franceses… mas não veremos o limiar em que a História roça ombros com o Mito (Mommsen disse de Viriato: “Era como se um dos heróis homéricos houvesse reaparecido”). O Mito, estrutura primeva ainda indissociada da linguagem, é estrutura basilar na criação da realidade: O resultado é que por falta dele (e acredito que o roçar de mangas mais breve seria o suficiente) vemos as coisas ligeiramente desfocadas, “como por um espelho escuro”. Para qualquer um que se debata com o problema de manter viva uma brasa que é já quase cinza, vinda de muito longe no tempo, trocada por incontáveis mãos, é evidente o fascínio que têm as épocas em que tal brasa era chama nova — quando um filho de Baco podia ainda fundar uma cidade, quando o mundo era novo e ainda havia mapas a completar. E, de fato, bem poucas nações podem se gabar de ter completado tantos mapas quanto Portugal.
É por isso que não posso deixar de me empolgar por cada oportunidade de contato com civilizações antigas, que já estavam atarefadas com os problemas do mundo quando o Brasil nem sequer engatinhava. Com gente que podia olhar para trás e encontrar gerações de mortos familiares pavimentando o caminho para um passado comum; que, quando vivos, ajudando-se mutuamente ou competindo, contribuíram de alguma forma para a continuidade de família e nação.
Como acontece entre Gonçalo Ramires e Portugal — e como já comentei acima — sinto que há uma correspondência entre o Brasil e certo tipo de brasileiro, uma continuação em escala menor do destino do país no destino do indivíduo. Na Wikipedia, o pequeno texto introdutório sobre a economia nacional começa com uma não desprezível lista de fatores positivos que constituiriam, para qualquer país de ambições medianas — i.é. apenas ficar por ali de boa, sem maiores intenções megalômanas — um bilhete premiado. Imensa extensão territorial, clima ameno, riqueza em matérias primas terras férteis et Em números, em puros dados estatísticos sobre potencial, um analista de fora concluiria tratar-se mesmo de um pedaço de terra afortunado. E no entanto topamos com uma cláusula pétrea no meio do caminho: “Apesar de conquistas econômicas, muitas questões sociais ainda impedem o desenvolvimento.”
A fórmula sociológica clássica equipara o Brasil a Portugal enquanto possuidores do mesmo aleijão na forma de se posicionar diante do tempo: Portugal, voltado para um passado que não retornará; o Brasil, para um futuro que não chega. Ambos à margem do tempo presente etc e coisa e tal. Esta é apenas uma das afinidades que aproximam os dois países.
Acredito que haveria supremo benefício numa reaproximação — não apenas acadêmica ou política, mas sentimental, familiar. Um lado poderia ajudar o outro a compensar determinadas deficiências de perspectiva, pequenas deformações do hábito que a proximidade não nos permite notar. Não podemos, sendo tão pobres, nos dar ao luxo de desperdiçar o tesouro dessa pequena Roma, nem que sejam apenas as gemas linguísticas — e este está longe de ser o único motivo:
Eça de Queirós, no conto “Adão e Eva no Paraíso”, se refere a Portugal como um velhinho cansado de aventuras e contente em apenas relembrar seus dias de glória ao pé do fogo (“nossa Lisboa aquece a sua velhice ao soalheiro, cansada de proezas e mares”). O mundo foi repartido e Portugal, por miríades de motivos que não cabem analisar aqui, perdeu seus bocados amealhados à custa de vida e tragédia humana.
O que parece faltar a este quadro com lareira e ancião aventureiro? Ora, a criança que lhe escute os relatos de proezas fantásticas; que aprenda as lições da experiência acumulada; que por fim tome para si a tarefa de carregar o fogo do entusiasmo ancestral ao descobrir os tesouros escondidos na velha casa da família, a herança de um povo que, como um rio profundo que não se altera, soube receber tributários que o enriquecessem, tornassem a sua um pouco a história de todos os que entraram em contato com ele. Meus amigos, trata-se de gente que tem estado por aí desde o paleolítico; gente tão sem noção que foi lá no Japão mostrar arma de fogo a japonês.
Stefan Zweig, Gilberto Freyre, Vilém Flusser e outros tolinhos julgaram notar, na digamos “experiência brasileira”, qualquer coisa de nova e excitante no cenário mundial, uma nova espécie de híbrido enxertado dotado de características incendiárias de mobilização e força — desde que devidamente excitadas — , de tenacidade aliada a uma feroz capacidade de adaptação, resistência passiva e relisiliência. Presentes apenas à primeira vista antagônicos, mas na verdade complementares, agregados das tantas raças — dominadoras e dominadas — que foram a têmpera da lâmina lusa.
Não vejo porque não dar a estes senhores algum crédito. Já há muito, em cada momento acordado, não posso ignorar a percepção contínua de uma grande reserva dormente de força próxima, a suspeita de que em algum canto desta casa há um tesouro escondido. Isto me parece um assunto prioritário, no sentido de que a paciência das gentes uma hora se esgota. Potencial não realizado talha, azeda e envenena seu recipiente.
E este pode bem vir a ser o remédio amargo e necessário para produzir a faísca de ação num espírito — o Luso — não primeiramente levado pela cobiça, mas pelo medo de deitar fora, de desperdiçar, enfim de perder um recurso precioso, dom divino e por isso cercado de responsabilidades. É o medo do retorno do senhor severo de Mateus 25, 14:30, que move este tipo de pessoa. Este é o veneno que também podem curar: A medicina oriental, particularmente a chinesa, enfatiza uma maneira de encarar o corpo que é mais síntese imaginativa — pressionar certos pontos do pé para atingir resultados em órgãos específicos — que fria análise ocidental — literalizada por exemplo nas fatias de uma tomografia computadorizada. O corpo é visto como um sistema simbólico, sempre em fluxo; delicado, em perpétuo equilíbrio — o que quer dizer, em perpétua crise. Onde uma gota de veneno pode ser justamente o reagente necessário para fazer o corpo disparar em direção ao pólo da saúde. No entanto, há que se agir rápido, pois o veneno se acumula, torna-se demais, e acaba por matar o paciente.
“El pueblo portugués tiene, como el gallego, fama de ser un pueblo sofrido y resignado, que lo aguanta todo sin protestar más que pasivamente. Y, sin embargo, con pueblos tales hay que andarse con cuidado. La ira más terrible es la de los mansos.”
Miguel de Unamuno (comentando o regicídio), Por Tierras de Portugal y de España
Os Gonçalo Ramires do mundo uma hora estouram: No final do livro, o valentão que humilhava Gonçalo apanha na cara, muito, mas muito, de um chicote de cavalo-marinho que era de um antepassado de Gonçalo. Isto só se dá quando Gonçalo pára de súbito com cada mau hábito acumulado em anos de inação: a conivência, a conveniência e a contemporização. Alguma dessas características parece familiar? Pois deveria: O “jeitinho brasileiro” é antes o “jeitinho português”. Esse e outros traços herdamos diretamente de lá; somos o galho enxertado no Novo Mundo de uma matriz com longevidade de sequóia que ficou na Europa. E em nós a matriz sempre viverá, sussurrando em nosso sangue o tema que é seu destino e tradição — o arraigar-se em potência, o nutrir-se à grande.
De alguma forma nos calhou ser a versão mais proeminente do “homo lusus”, como caipiras subitamente endinheirados. As dificuldades técnicas e de orçamento nós sabemos driblar com criatividade (desde as botas norte-americanas, grandes demais para pés brasileiros e estofadas com jornal pelos nossos pracinhas na Itália até pesquisas pioneiras em biotecnologia, como o tratamento de queimaduras à base de pele de tilápia, desenvolvido no Ceará). E os pracinhas da FEB são um de muitos exemplos dessa característica nacional. Eles podiam não ser fortes, mas “armaram-se em fortes” quando o momento assim pediu, e isso é só o que importa. Etc etc. Só precisamos mesmo de um senso de pertencimento que, ao contrário de tolher-nos o avanço, nos dará a perspectiva (nos devolverá, já que ela sempre foi nossa), a mirada privilegiada para sabermos o melhor passo a tomar; para então também metermos a mão firme às discussões do grande lá fora e ao leme da nossa vida.
Seríamos então talvez qualquer coisa de nova, o “Homo ludens” de Flusser, capaz de reconhecer e se relacionar com os eventos a partir da perspectiva do jogo. Como o Infante D. Henrique no poema de Pessoa, teremos posse do “globo mundo”, não para oprimi-lo, mas para jogar com ele… de repente até um ludopediozinho de lev’s, jogo no qual, me parece, brasileiros e portugueses acham certa graça.